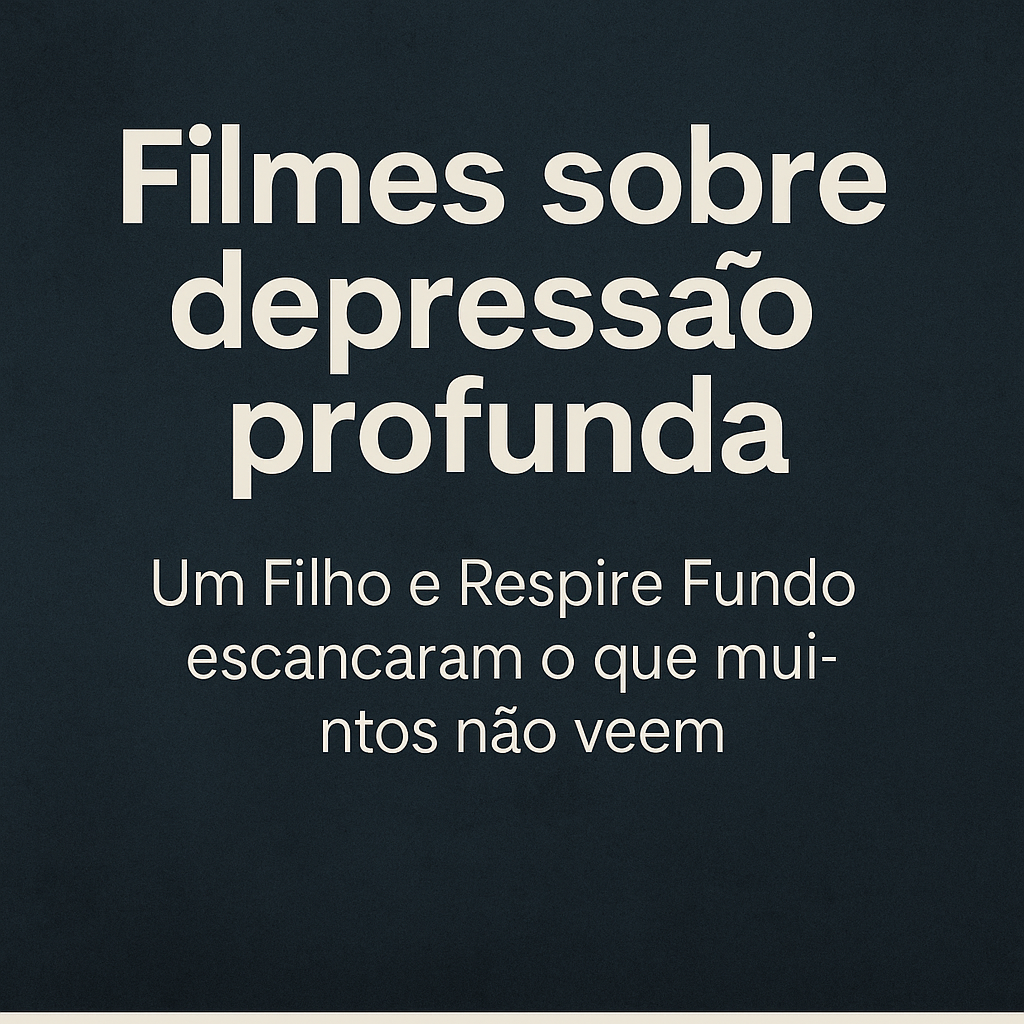Filmes sobre depressão profunda: Um Filho e Respire Fundo escancaram o que muitos não veem
Falar sobre filmes sobre depressão profunda não é uma tarefa fácil. Na verdade, eu hesitei bastante antes de escrever este post. Tive dúvidas se conseguiria organizar as ideias, se seria capaz de trazer à tona algo de construtivo a partir de temas tão densos. Depois de pensar por uns três dias, respirei fundo — sem trocadilhos — e escrevi. Aqui está. Que essas palavras alcancem quem precisa e sirvam, talvez, como um abraço silencioso.
Enredos que falam de dor
Ambos os filmes tratam de um mesmo ponto central: a depressão profunda em níveis tão severos que ameaçam a própria vida.
Em Um Filho (The Son), acompanhamos o adolescente Nicholas (Zen McGrath), filho de pais separados — Peter (Hugh Jackman) e Kate (Laura Dern). Ele luta para lidar com a nova configuração familiar, especialmente com a chegada de um meio-irmão recém-nascido, fruto do casamento do pai com Beth (Vanessa Kirby).
Já em Respire Fundo (A Mouthful of Air), Julie (Amanda Seyfried) é uma jovem mãe que entra em colapso psicológico após o nascimento de seu segundo filho. O que parece, à primeira vista, um caso de exaustão pós-parto, revela camadas profundas de dor e traumas antigos.
Filmes sobre depressão profunda: Muitas camadas em Um Filho
O filme retrata com realismo a angústia de um adolescente após o divórcio dos pais. Enviado para morar com o pai, Nicholas demonstra, no início, uma rebeldia típica da adolescência. No entanto, o que se revela logo em seguida é um quadro emocional grave: insegurança, sensação de abandono, raiva e, principalmente, uma dor que ele mesmo descreve como constante — presente em cada hora do dia.
A atuação de Hugh Jackman, como um pai que tenta “consertar tudo” sem saber como, é profundamente tocante. A falta de preparo e de escuta, mesmo com as melhores intenções, também é um tema que atravessa o enredo.
Filmes sobre depressão profunda: Muitas camadas em Respire Fundo
Neste filme, a dor vem de outra perspectiva: a de uma mulher adulta, em pleno exercício da maternidade, mas absolutamente fragilizada. Julie não está apenas sobrecarregada com dois filhos pequenos. Ela está sendo confrontada por traumas profundos, memórias dolorosas e a sensação constante de inadequação.
Em meio à rotina doméstica, o espectador é levado a enxergar o invisível: os pensamentos autodepreciativos, a culpa materna, a solidão e o peso de uma infância marcada por abusos. É impossível assistir a Respire Fundo sem se comover com a solidão dessa personagem — mesmo cercada de amor e apoio.
Desfechos reais e desconcertantes
Nos dois filmes, os personagens recebem ajuda. Estão cercados de familiares e profissionais da saúde, tomam medicação e são acompanhados de perto. Mas, ainda assim, não conseguem vencer a dor. O que esses enredos escancaram é que, para algumas pessoas, simplesmente existir já é uma batalha diária e exaustiva.
O que dizer a quem ficou?
O silêncio, nesses casos, pode ser ensurdecedor — especialmente para quem ficou. Pais, amigos, cônjuges, irmãos: todos se perguntam se poderiam ter feito algo diferente. A resposta sincera é que nem sempre há como saber.
Em muitos casos, a depressão profunda é crônica, construída ao longo de uma vida inteira, alimentada por gatilhos, traumas e narrativas internas difíceis de ressignificar.
E o que podemos fazer?
Talvez o primeiro passo seja olhar com mais compaixão para nós mesmos. Entender nossas próprias dores e acolhê-las com carinho. A partir disso, fica mais fácil reconhecer que todos enfrentam batalhas invisíveis.
Podemos, então, ser mais gentis. Ouvir mais. Estar mais presentes. E oferecer presença verdadeira àqueles que amamos — sem julgamentos, sem pressa, sem soluções prontas.
Onde assistir Um Filho e Respire Fundo
Leia também outras análises no Blog Espelho da Tela
Se você se interessa por filmes que tocam em temas delicados com sensibilidade, não deixe de conferir outras análises no Blog Espelho da Tela. Cada texto é um convite à reflexão.